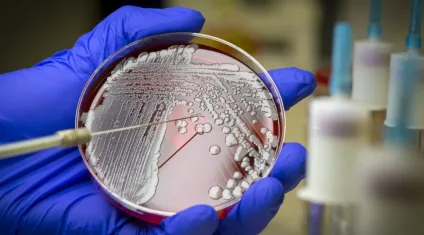Os humanos estão ficando cada vez mais inteligentes, mas o crescimento cognitivo pode ter um limite. Quem poderá salvar a humanidade dessa estagnação?
Quando Alexander Luria chegou ao Uzbequistão nos anos 1930, encontrou uma região praticamente feudal. O psicólogo russo queria estudar as funções cognitivas de adultos em sociedades sem tecnologia ou alfabetização. E a maioria dos uzbeques vivia da produção de algodão a serviço de proprietários rurais endinheirados. O país como tal fora criado em 1924, ano em que virou uma república anexada à União Soviética. Era um período de fortes mudanças socioeconômicas e culturais, como o início da reforma agrária, a emancipação feminina e a construção de escolas em áreas rurais.
Numa das vilas, o pesquisador usou problemas de lógica para testar a cognição dos agricultores. “No Polo Norte, onde tem neve, todos os ursos são brancos. Nova Zembla fica no Polo Norte e sempre tem neve lá. De que cor são os ursos em Nova Zembla?” Um camponês de 37 anos respondeu: “Há diferentes tipos de urso”. O cientista repetiu a pergunta quatro vezes, à qual o aldeão retrucou: “Se um homem de 60 ou 80 anos tivesse visto um urso branco e me contasse, eu acreditaria. Mas nunca vi um e, por isso, não posso falar”. Na sequência, um jovem uzbeque se voluntariou para resolver o enigma: “Com base no que você diz, os ursos lá são brancos”. A conclusão de Luria foi que o adulto não conseguia solucionar o problema porque raciocinava sobre suas experiências. Seu pensamento era empírico, não teórico. Já o acerto do garoto sequer foi mencionado nas considerações finais.
Cinquenta anos depois, o cientista político James Flynn usou os estudos do russo para sustentar uma ideia provocadora: a de que a humanidade fica mais inteligente a cada nova geração, fenômeno que ficou conhecido como Efeito Flynn. O americano percebeu que as empresas que vendiam testes de QI precisavam recalibrá-los de tempos em tempos. Motivo? O QI médio da população aumentava cinco pontos a cada 15 anos. Só que, por definição, esse valor deve ser sempre 100 – o escore médio de cada faixa etária, que serve de parâmetro para o cálculo das notas tiradas por cada pessoa que faz o teste. De acordo com a pesquisa de Flynn, se testássemos humanos que viveram cem anos atrás utilizando os testes de QI atuais, eles teriam um QI médio de 70. E, se nós fizéssemos as provas do início do século 20, nosso escore seria de 130. “Isso significa que eles eram mentalmente retardados e nós, superdotados?”, brincou Flynn, numa palestra de 2013. “Eu sugiro uma terceira alternativa.”Em seu livro Are We Getting Smarter? (“Estamos Ficando Mais Inteligentes?”, sem tradução para o português), o cientista explica que o efeito tem a ver com a evolução do mundo, que exige mais habilidades mentais e, ao mesmo tempo, dá as condições para que elas surjam.
Algumas evidências corroboram as ideias de Flynn. Nas últimas seis décadas, houve um aumento de 20 pontos no QI médio global, como mostra um estudo de 2014 da Universidade King¿s College, de Londres. Os pesquisadores avaliaram mais de 200 mil testes de QI, feitos em 48 países desde 1950. Entre as possíveis causas para o efeito, estão as melhorias na assistência médica, na alimentação, na educação e no acesso à informação. Com condições melhores de vida, os humanos podem desenvolver a inteligência na sua plenitude, ou quase isso. Uma criança subnutrida e doente, por exemplo, terá menos calorias disponíveis para abastecer o cérebro, um órgão que exige até 25% de toda a energia consumida pelo corpo.
Esse fenômeno ficou ainda mais evidente em outra parte do estudo da King´s College. A pesquisa mostrou que a inteligência das nações em desenvolvimento cresceu tão rápido que está alcançando a dos países ricos – com destaque para os argentinos, que ganharam 6 pontos de QI por década. A redução de doenças e da fome nas nações pobres, bem como o aumento do acesso à educação, contribuíram para esse resultado.
Aqui no Brasil, a psicóloga Carmen Flores-Mendoza, da UFMG, usou dados de 842 crianças urbanas e rurais que fizeram um tipo de teste de inteligência. Publicada em 2006, a pesquisa mostrou que o grupo da cidade tinha um QI 28 pontos maior do que a turma do campo. Um dos motivos apontados para essa diferença foi a melhor nutrição das crianças urbanas. O resultado serviu para alimentar a hipótese defendida por muitos cientistas (inclusive Flynn) de que a inteligência não seria determinada pela raça, por exemplo, mas é ceifada pela pobreza (que atinge com mais força algumas etnias).
Uma das grandes dúvidas sobre o Efeito Flynn é se ele vai continuar eternamente ou se a inteligência humana deve parar de crescer em algum momento. O próprio Flynn aceita que o intelecto humano está perto do limite nas nações desenvolvidas, onde há pouca margem para melhorias significativas das condições de vida e educação para turbinar o intelecto ainda mais. Um estudo norueguês de 2004 alega que, sim, estamos perto da nossa capacidade intelectual máxima. A pesquisa intitulada O fim do Efeito Flynn?, da Universidade de Oslo, revelou uma diminuição de aproximadamente 2 pontos no QI médio dos jovens a partir de meados da década de 1990. Mais tarde, outro estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, encontrou resultados mais modestos: a população de lá perdeu 1 ponto desde o final dos anos 1990.
Crânios menores
A inteligência humana pode ter chegado ao limite. Mas e se nossos cérebros sofressem mudanças anatômicas e ficassem maiores, permitindo um novo salto cognitivo? Afinal, a seleção natural favorece os mais inteligentes. Neurologistas divergem sobre a viabilidade física de uma mente mais eficiente do que a nossa.
Como vimos na página 11, há uma relação entre cabeças grandes e inteligência. Mas o primeiro obstáculo aparece na hora do parto: crianças cabeçudas exigem canais vaginais maiores. E nada indica que os quadris femininos estejam acompanhando essa demanda. Além disso, cabeças grandes dependem de maiores linhas de transmissão para interligar as regiões do cérebro, como as responsáveis pela visão, controle dos impulsos, emoções e memória – a inteligência depende de uma comunicação azeitada entre elas. Essa infraestrutura deixa o cérebro mais lento porque os sinais demorariam mais para transitar pela massa cinzenta.
Outro dado ajuda a afastar essa hipótese. Os cérebros humanos estão, na verdade, diminuindo de tamanho. Depois de chegar ao auge com o surgimento do Homo sapiens, 300 mil anos atrás, o cérebro humano começou a encolher. Nos últimos 20 mil anos, o órgão perdeu cerca de 10% do volume. Uma das explicações para o fenômeno seria a domesticação dos humanos. Vários estudos entre exemplares silvestres e confinados da mesma espécie mostram que o cérebro de animais domesticados encolhe com o passar das gerações. Os cientistas acreditam que precisamos de mais neurônios para sobreviver na natureza selvagem. Mas um ambiente controlado permite que o organismo elimine células obsoletas. Na prática, o cérebro menor não está nos tornando mais burros. Ele apenas está se readaptando às condições do ambiente.
Mas a tendência de redução do volume craniano coloca outro obstáculo ao aumento da inteligência. Será possível empacotar cada vez mais neurônios dentro de um cérebro em processo de enxugamento – mais ou menos como ocorre com os microchips hoje em dia, cada vez mais abarrotados de transistores? Dificilmente. O que cederia seu espaço para novos neurônios? Um candidato seria o axônio, a ponta do neurônio, responsável por transmitir os impulsos elétricos. Para liberar área útil no cérebro, os axônios poderiam ficar mais finos. Aí surge o primeiro problema: eles já são muito estreitos. O apertado canal do axônio é o responsável pelos erros do cérebro.
Hoje, os neurônios falham em 71% dos disparos, em média, segundo um estudo de 1994 do Instituto Médico Howard Hughes, entidade filantrópica que financia pesquisas na área da biomedicina. São impulsos que geram respostas erradas e precisam ser repetidos – e isso limita a velocidade do cérebro. Como o canal do axônio é muito fino, a troca de elétrons e neurotransmissores acaba se embaralhando. Se os axônios tivessem o dobro da grossura, consumiriam o dobro das calorias, mas teriam eficiência apenas 40% maior. Isto é, essa mudança provavelmente não compensaria, e os genes responsáveis por imprimir a alteração não seriam passados adiante para se perpetuar na espécie.

(ktsimage/iStock)
Sabedoria global
A evolução das espécies ocorreu na carona de mutações aleatórias. Não é impossível que surjam genes capazes de driblar as limitações do cérebro – mas, hoje, parece ser improvável. Por isso, os cientistas decidiram concentrar seus esforços em entender como aumentar não a sabedoria individual, mas a coletiva. “Talvez seja mais importante destacar o fato de que podemos pensar em modos de superar os limites de cada cérebro individual. Os cérebros de pessoas distintas colaboram, podem trabalhar em rede, e essa rede é extraordinariamente versátil”, diz Roberto Colom, professor de psicologia da Universidade de Madri e autor de Nos Limites daInteligência. “Os Homo sapiens dominam o mundo porque seus cérebros colaboram. Há tempos que superamos os limites físicos dos crânios.”
Desde a invenção da agricultura, os homens compartilham conhecimentos, transmitidos de geração em geração, sobre as melhores épocas para plantação e colheita. Do clima às religiões, não é exagero dizer que a inteligência coletiva forjou a civilização. Hoje, computadores e internet dão novo impulso a esse fenômeno. “O caminho para melhorar a inteligência coletiva é permitir que as pessoas possam compartilhar ideias com a maior liberdade possível. Filtros e controles centralizados devem ser eliminados”, defende Colom. “É urgente aumentar a inteligência da humanidade.” Só ela poderá resolver os grandes problemas mundiais, defende o pesquisador.
As mentes mais brilhantes concordam. Em 2006, uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo, o MIT, criou o Centro de Estudos em Inteligência Coletiva, cuja principal missão é medir o que os pesquisadores batizaram de “fator c”, isto é, a nossa capacidade de cooperar – em alusão ao fator g cunhado no início do século 20 pelo britânico Charles Spearman. Em uma das pesquisas, liderada pelo diretor do centro, Thomas Malone, foi descoberto que os grupos mais inteligentes não eram aqueles nos quais os membros exibiam os maiores QIs individualmente, mas os que tinham mais mulheres. Quanto maior a presença feminina, mais inteligência coletiva. Segundo Malone, as mulheres em geral têm mais “sensibilidade social”, um requisito que parece turbinar o QI coletivo.
O resultado surpreendeu. Indicadores óbvios como coesão da equipe, motivação e altas pontuações em testes cognitivos não foram associados à inteligência coletiva. Grupos inteligentes seriam muito mais que a soma de talentos – algo já bem conhecido nos esportes. Times muito homogêneos ou muito diversos também não são espertos. É preciso diversidade cognitiva.
Fora da área da psicologia, há quem defenda que nossa inteligência pode receber uma ajudinha da tecnologia. É o que disse o futurista Nicholas Negroponte, professor do MIT, numa palestra de 2014. “Daqui a 30 anos, vamos ingerir informação. A gente vai tomar uma pílula e aprender inglês.”
Inteligência artificial
Se a inteligência coletiva ou turbinada por medicamentos não for suficiente, podemos ainda contar com a ajuda das máquinas. A inteligência artificial já está bem avançada. O Watson, computador da IBM que já ganhou o Jeopardy!, famoso quiz americano no qual os jogadores devem decifrar perguntas a partir de respostas, hoje faz diagnósticos de câncer melhor do que os humanos no renomado Centro de Oncologia da Universidade do Texas, EUA. Em 2011, Watson superou Brad Rutter, o único a faturar mais de US$ 4,5 milhões no Jeopardy!, e Ken Jennings, vencedor por 74 vezes seguidas num mesmo ano. Outros robôs já tinham vencido o homem em jogos de lógica, mas o Jeopardy! exigia uma compreensão linguística além dacapacidade de um computador comum. O Watson usa uma forma de autoprogramação conhecida como aprendizado de máquina. O sistema recebe amostras de informação e depois aprende por conta própria.
O método é um dos ramos da inteligência artificial, a tecnologia que promete superar nossa mente no futuro. Tem gente que dá até nome e data para isso: a singularidade ocorrerá em 2045, segundo as previsões do guru futurista Ray Kurzweil, hoje consultor do Google. “A inteligência não biológica criada nesse ano será um bilhão de vezes mais poderosa do que toda a inteligência humana de hoje”, diz Kurzweil no livro The Singularity is Near (“A Singularidade Está Próxima”, sem edição em português), de 2005.
O futurista não está sozinho. Outros 94 autores escreveram estudos e livros a respeito nos últimos 70 anos, conforme um estudo de 2012 da Universidade de Oxford. A maioria das previsões calculava que a singularidade virá nos próximos 40 anos. Mas, para alguns cientistas, ela já está em curso. “Inteligências artificiais já estão sendo aplicadas em diagnósticos médicos, previsões do mercado financeiro e até pesquisas científicas”, observa Marco Idiart, professor do Instituto de Física da UFRGS.
O raciocínio dos supercomputadores está espalhado por milhares de neurônios artificiais, dispostos em centenas de camadas interligadas. Além disso, existe um processo chamado retropropagação, que calibra os neurônios com base em cálculos anteriores. Isso dá autonomia às máquinas para encontrar soluções numa montanha de dados. É o que o Watson faz: ele não pensa de verdade, apenas faz contas para tentar chegar à informação mais plausível.
Só que a autoprogramação tem um preço: o pensamento artificial fica tão complexo que nem os cientistas sabem que caminho as máquinas seguem para chegar à respostas. Essa é a principal pedra no sapato de empresas como Google, Nvidia e IBM. E até o exército dos Estados Unidos está tentando sair dessa enrascada: em março deste ano, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (Darpa) patrocinou 13 programas com o objetivo de tornar a inteligência artificial menos obscura. Um deles é comandado pelo brasileiro Carlos Guestrin, professor da Universidade de Washington. O projeto busca explicações racionais do computador sobre suas escolhas. Um sistema projetado para rastrear terroristas, por exemplo, pode usar milhões de mensagens para tomar decisões. Mas, com a abordagem da equipe de Guestrin, seria possível entender como ele raciocinou, e em quais elementos se baseou.
Os especialistas estão longe de chegar a um consenso sobre o futuro da inteligência artificial. O que sabemos é que ela vai mudar nosso estilo de vida. “O risco está na invasão à privacidade, feita de forma sutil”, pontua Rosa Vicari, pesquisadora do Grupo de IA da UFRGS. Kurzweil tem uma visão mais otimista. “[A singularidade] nos leva a computadores com inteligência, colocados dentro dos nossos cérebros, conectados à nuvem.” Se vamos ser super-humanos ou escravos das máquinas, só os robôs de busca do Google dirão.
Fonte: Super interessante
Créditos: super interessante