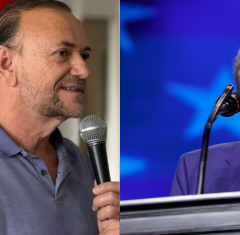Trata-se de um triunfo evolutivo para uma criatura que, originalmente, botava seus ovos em ocos de pau nas florestas tropicais da África Oriental (e ainda tem parentes próximos por lá, uma subespécie conhecida como Aedes aegypti formosus). Foi graças a essa transição para a vida em cidades que o bicho encontrou um nicho ecológico fácil de explorar, com tudo aquilo de que necessitava: recipientes de água para botar seus ovos e sangue quente à vontade para nutrir as fêmeas, em cujo ventre são formados e fecundados os tais ovos.
A espécie se “autodomesticou”, encontrando maneiras de viver lado a lado com o ser humano, há alguns milhares de anos. Conseguiu se espalhar pelas Américas, pela Ásia e até pelo sul da Europa, graças, mais uma vez, a caronas involuntárias do homem.
Um século e meio atrás, surtos de febre amarela trazidos pelo mosquito ainda devastavam os EUA e o sul da Espanha. Só uma forma de urbanização mais organizada, além da vigilância e do uso de inseticidas, acabou livrando esses países do problema.
“É um inseto muito bem adaptado ao ambiente urbano, com uma plasticidade muito grande”, diz Tamara Nunes de Lima-Camara, entomóloga da Faculdade de Saúde Pública da USP.
No século passado, esforços hercúleos (e às vezes autoritários) de órgãos de saúde pública chegaram a banir a espécie do território brasileiro em dois momentos diferentes. O relaxamento da vigilância, no entanto, permitiu seu retorno –desta vez, num cenário de complexidade urbana bem mais difícil de enfrentar do que a situação dos anos 1920 e 1930.
Gaiato no navio
Ainda não há certeza sobre o momento em que o mosquito se tornou uma ameaça de proporções globais, embora o tráfico negreiro seja um dos principais suspeitos. “É amplamente aceito que o Aedes tenha sido trazido para cá pelo intenso tráfego entre Europa, oeste da África e América”, diz o entomólogo Carlos Brisola Marcondes, da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).
Relatos sobre uma doença que afetou os homens de Cristóvão Colombo na ilha de Hispaniola (atual Haiti e República Dominicana), em 1495, talvez se refiram à febre amarela, também transmitida pelo mosquito. Havia escravos africanos na tripulação de Colombo, que podem ter atuado como hospedeiros desse vírus.
“O problema é que relatos sobre as mais variadas febres estão presentes por toda parte no período colonial, sem que seja possível identificar com precisão qual era a doença”, pondera o historiador Rodrigo Cesar da Silva Magalhães, doutor em história das ciências e da saúde pela Fiocruz e professor do Colégio Pedro 2º, no Rio de Janeiro.
As últimas décadas do século 19, com epidemias no Brasil e nos Estados Unidos, levaram ao reconhecimento definitivo da doença como uma moléstia específica e à descoberta de que o mosquito a transmitia. O vírus, entretanto, só seria identificado em 1927.
Campanhas de combate ao mosquito foram deflagradas em todo o continente americano. No Brasil, o médico paulista Oswaldo Cruz montou o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela na primeira década do século 20. Brigadas de mata-mosquitos tinham plenos poderes para invadir casas no Rio de Janeiro, às vezes atuando até de madrugada.
O combate montado por Cruz deu resultado no Rio, mas foi apenas o prelúdio de uma iniciativa ainda mais ambiciosa, financiada e organizada por especialistas americanos da Fundação Rockefeller, sob o comando de Fred Soper, a partir dos anos 1930. O plano era transformar as Américas como um todo em território livre do Aedes.
“A febre amarela se prestava muito bem a uma demonstração pública dos benefícios da microbiologia, uma área que estava se consolidando na época. As pessoas estavam sendo catequizadas nessa nova fé, digamos”, explica Magalhães, autor do livro eletrônico “A Erradicação do Aedes aegypti”. “Além disso, a doença era um grande entrave ao comércio internacional. Uma empresa americana, por exemplo, tinha receio de mandar seus empregados para o Brasil, nos anos 1910 e 1920, por causa do risco de eles acabarem adoecendo.”
Além do financiamento, do conhecimento técnico americano e do engajamento da nascente comunidade científica nacional, o plano avançou porque sucessivos governos brasileiros, ao longo de quase cinco décadas, decidiram manter esforços constantes no combate ao mosquito. O resultado veio em 1955, com a declaração de que o Aedes tinha sido erradicado do país, ratificada mais tarde pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
COMBATE HISTÓRICO AO AEDES
Segundo Magalhães, o desmantelamento da estrutura draconiana de controle acabou permitindo a reintrodução da espécie no Brasil, em 1967, a partir da Colômbia e da Venezuela. Uma segunda erradicação ainda ocorreria em 1973, mas um ano depois o Aedes estava de volta mais uma vez.
Repetir o feito dos anos 1950 no contexto atual seria difícil, para não dizer impossível, de acordo com o parasitologista Paulo Eduardo Martins Ribolla, do Instituto de Biotecnologia da Unesp em Botucatu. “As cidades hoje são muito maiores e mais complexas, e a densidade populacional do mosquito hoje também provavelmente é maior. Além disso, há a questão do tráfego internacional por navio, muito mais intenso.”
Navios são relevantes porque os carregamentos de grande escala provavelmente são os principais responsáveis por levar ovos e larvas de mosquitos de um país para outro (enquanto o tráfego aéreo leva gente com novos tipos de vírus a vários pontos do globo em pouquíssimo tempo). A diversidade genética do Aedes no Estado de São Paulo traz fortes indicações da importância do fator naval: em Santos, principal porto paulista, a variabilidade do DNA do Aedes é significativamente maior do que em outras regiões, afirma Ribolla, que estuda a genética das populações do inseto.
Liras e parceiros
Ninguém sabe muito bem por que o vetor da zika possui as célebres pintas brancas nas patas e um desenho que lembra uma lira (instrumento musical de cordas) na parte de cima do tórax.
Do ponto de vista humano, são características que decerto facilitam a identificação do inseto a olho nu. Talvez esses detalhes ajudem os insetos a reconhecer seus iguais, uma vez que a visão do bicho tem acuidade razoável. “São detalhes discretos perto dos que a gente vê em mosquitos típicos de floresta, que costumam ser bem mais complexos e até bonitos”, afirma a entomóloga Tamara.
A vida na cidade grande também parece ter tornado a vida sexual do Aedes menos atribulada e mais eficiente, em comparação com a de seus primos silvestres. Em laboratório, depois que machos e fêmeas são colocados em contato, a cópula e a transmissão da espermateca (reservatório de esperma típico desses animais) ocorre em questão de minutos para todos os casais do recinto.
Já o A. albopictus, que não está adaptado ao ambiente urbano, precisa de cerca de meia hora para que o processo aconteça. A “pressa” do A. aegypti provavelmente é outro fator que ajuda a explicar a rápida multiplicação da criatura nas áreas que consegue invadir.
Ao longo de sua curta vida adulta –que dura até quatro semanas–, cada fêmea da espécie normalmente só copula com um único macho. Mas o mesmo macho é capaz de inseminar múltiplas parceiras.
Isso acontece porque, logo após o acasalamento, o mosquito do sexo masculino insere nos órgãos genitais da parceira uma espécie de tampão, impedindo que rivais dele a inseminem. Esse detalhe do comportamento do animal é o ponto crucial por trás de abordagens como a criação de mosquitos machos transgênicos com prole inviável: como as fêmeas que se acasalam com eles não terão a chance de encontrar um novo parceiro, o resultado é a diminuição da população de insetos na geração seguinte.
Após receber a espermateca, a fêmea consegue usar aos poucos os espermatozoides do primeiro e único parceiro, fecundando uma fração de seus óvulos a cada gole de sangue que obtém. Ou seja, cada “refeição de sangue” da fêmea (vale dizer, a cada pessoa picada) corresponde a uma nova batelada de ovos, que passam cerca de dois dias amadurecendo no interior do organismo do inseto antes de ser depositados no ambiente.
A sede de sangue é exclusiva das fêmeas do A. aegypti (e das fêmeas de algumas outras espécies de mosquitos). Todos os A. aegypti são capazes de se alimentar de néctar ou de secreções de frutas, e essas são as únicas fontes de nutrição dos machos adultos. Já o sangue das vítimas (geralmente humanas) é crucial para o desenvolvimento dos ovos, na condição de uma reserva proteica para os embriões nas suas primeiras fases de crescimento.
Essa necessidade sanguínea levou ao aparecimento de adaptações típicas nas fêmeas dos Aedes, as únicas que possuem um sofisticado aparato sugador de sangue, além de apurados “sensores” para localizar as vítimas humanas com base em pistas como o gás carbônico produzido durante a respiração, a temperatura do corpo e possivelmente odores produzidos na pele do Homo sapiens, com destaque para o composto sulcatona.
Dentro do probóscide da fêmea (a “tromba” do bicho), há um tubo estreito que o inseto usa para injetar na corrente sanguínea da vítima saliva contendo substâncias anticoagulantes e vasodilatadoras, ideais para manter o fluxo de sangue. É nesse momento que vírus presentes no organismo da sugadora, obtidos quando ela ingeriu o sangue de um mamífero contaminado, vão parar no corpo do humano picado.
Até onde se sabe, o possível efeito negativo dos diferentes vírus sobre o organismo dos insetos é muito pequeno ou nulo. Uma longa história de coevolução entre vírus e mosquito deve ter levado o patógeno a “aprender” a não danificar a criatura responsável por espalhá-lo mundo afora.
A mesma trégua talvez não valha, por outro lado, para a interação entre os diferentes vírus. Segundo Tamara, da Faculdade de Saúde Pública da USP, é raro que mais de um dos causadores de doenças esteja presente ao mesmo tempo nas glândulas salivares do animal, o que pode indicar competição entre eles pelo privilégio de chegar à corrente sanguínea do hospedeiro humano.
Quando deixam o corpo da fêmea, os ovos são esbranquiçados. Logo adquirem uma coloração escura, a qual, quando vista ao microscópio, dá-lhes uma vaga aparência de grão de arroz que ficou tempo demais na panela e queimou. Em períodos mais secos, sem acesso direto à água na qual as larvas se desenvolvem, os ovos podem permanecer mais de um ano na chamada diapausa, uma situação que Ribolla compara à hibernação dos ursos.
Com a chegada da chuva e acesso a água limpa, eles finalmente eclodem. “Limpa” é maneira de dizer, ressalta o pesquisador da Unesp: “As larvas de Aedes se alimentam de bactérias, fungos, matéria orgânica em suspensão. A diferença delas em relação às larvas de culex [o pernilongo comum] é que preferem água com relativamente pouca matéria orgânica.”
Existem registros de larvas de Aedes vivendo em água suja –fossas sépticas em Porto Rico e Roraima, por exemplo, informa Brisola Marcondes. “Mas, por enquanto, os criadouros relevantes do ponto de vista epidemiológico ainda são os de água limpa”, argumenta Ribolla.
Sem otimismo
Ao longo das próximas décadas, as condições ambientais do Brasil (e de outras regiões menos favorecidas do planeta) ficarão ainda mais apropriadas para o mosquito. O aumento da temperatura local e global, consequência das atuais emissões de gases do efeito estufa, tende a impulsionar a proliferação do inseto em lugares hoje frescos demais para ele (no laboratório da Unesp de Botucatu, os ovos, as larvas e os adultos são mantidos a uma temperatura constante de 26,5°C).
Além disso, modelos matemáticos que tentam projetar como será o clima do futuro indicam um aumento dos chamados eventos climáticos extremos –coisas como estiagens prolongadas seguidas de temporais violentos, que concentram boa parte das chuvas em períodos curtos. Para uma espécie que aposta na sazonalidade como estratégia, por meio dos ovos capazes de ficar em “animação suspensa”, o cenário parece tranquilo e favorável.
“Esses eventos extremos poderiam ter um efeito focalizado, potencializando certos surtos”, pondera Ribolla. “De fato, é impressionante como o mosquito está adaptado a essa sazonalidade. Não é que a população cresça na chuva e diminua na seca: a população é constante, só que no período úmido você vê os adultos voando, enquanto na seca é como se houvesse um banco de ovos esperando a próxima chuva.”
O pesquisador da Unesp conta ter presenciado o que parece ter sido um exemplo, em pequena escala, do que pode acontecer no futuro, ao estudar os arredores do campus onde trabalha. Até 2013-2014, Botucatu quase não tinha dengue autóctone, ou seja, transmitida por mosquitos do próprio município. O normal era a doença estar associada a pessoas que tinham viajado para outros lugares, e depois surgiam mais alguns casos em torno dessas pessoas.
O curioso é que o Aedes estava presente na região, conforme indicavam coletas feitas pela equipe da Unesp desde 2004. “A gente imaginava que, por estar numa região um pouco mais alta e mais fria [800 metros acima do nível do mar], Botucatu não seria tão propícia ao inseto”, explica Ribolla.
Aí, em 2014-2015, começaram a aparecer centenas de casos autóctones. “Alguma coisa mudou nos últimos dois ou três anos, possivelmente algo relacionado à densidade populacional do Aedes.”
A grande capacidade de adaptação do mosquito faz com que a maioria dos especialistas desconfie de soluções aparentemente milagrosas para detê-lo. “Eu não vejo nenhuma ferramenta tecnológica capaz de substituir totalmente o combate aos criadouros”, diz Ribolla.
As mudanças nada auspiciosas no comportamento da espécie no interior paulista são, de certa forma, um microcosmo do que está acontecendo no mundo todo. O mosquito já consegue se manter ao longo de todo o ano em regiões nas quais ainda não tinha se fixado: a Califórnia, a orla do mar Negro, Washington e a ilha da Madeira, conforme conta Jeffrey Powell, da Universidade Yale, em artigo publicado no fim de novembro na revista especializada “Science”.
Um dado particularmente alarmante tem a ver com as alterações de comportamento da subespécie selvagem, o A. aegypti formosus. O bicho originalmente silvestre agora está ocupando as periferias de grandes cidades africanas, em países como Angola, Senegal e Camarões, alimentando-se de sangue humano (deixando de lado, portanto, seu “cardápio” costumeiro de animais selvagens).
É possível que isso tenha relação com novos surtos de febre amarela na África, já que o vírus da doença normalmente vem do meio florestal para o urbano (circulando a maior parte do tempo no organismo de macacos e outros bichos). Não é inconcebível que novos vírus deixam a mata para afetar o ser humano graças a essa nova mudança do mosquito para as cidades.
De quebra, há evidências de que a subespécie silvestre e a urbana estão cruzando entre si, o que pode trazer mais diversidade genética – e, potencialmente, mais resistência a inseticidas e repelentes – para o Aedes.
Fonte: Folha de S. Paulo