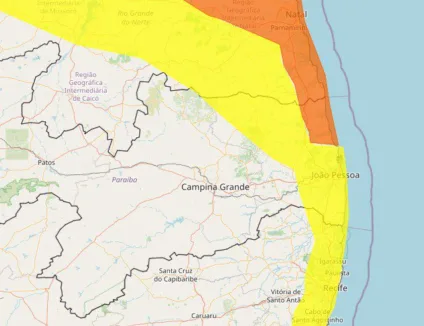Desconfio pertencer a uma geração – ou a um gênero – de pais condescendentes, pouco disciplinadores, bem menos rigorosos do que os meus pais, menos ainda quando comparados ao que foram nossos avós.
No meu caso particular, a sorte é que tive a sorte de ter filhos maravilhosos, que vão se aprumando e se realizando na vida por eles mesmos e sem dúvida conseguirão educar meus netos bem melhor.
Digo isso porque outro dia me peguei reparando nos modos de minha caçula à mesa. Nada que preocupe, mas observando-a percebi que pelo menos na hora da refeição os filhos de hoje perderam o temor reverencial aos pais.
A falta de reverência é um fato. Não chega a ser falta de respeito, mas fica bem evidente a ‘flexibilidade paternal’ na hora de se servir. Eles já não esperam que os pais sejam os primeiros a botar comida no prato.
No meu tempo de criança ou jovem, ainda morando na casa de meus pais, nenhum dos cinco filhos do Professor Vicente e de Dona Aparecida se atrevia a pegar e mover qualquer talher antes de pai ou mãe.
Também não tinha esse negócio de “quero almoçar agora não, porque estou sem fome”. Minha mãe, especialmente ela, não admitia – nem tolera até hoje – que a família almoce ou jante dividida, dispersa, um agora, outro depois.
Quando ouvíamos o ‘tá na mesa!’, com ou sem apetite ocupávamos todos e quase ao mesmo tempo os nossos lugares. Nenhum, evidentemente, à cabeceira, reservada ao meu pai, e mamãe ocupando a primeira cadeira à direita dele.
Outra coisa: conversávamos pouco ou nada enquanto comíamos. E, claro, a conversa era pautada pelo chefe da família, cabeça do casal. Assunto de filho? Só se ele ou Dona Aparecida perguntasse ou um de nós, sob permissão, pudesse usar a palavra.
Fora isso, se alguma língua eventualmente mais solta se desviava da degustação para ousar alguma falação sem anuência prévia, arriscava-se a levar um “cale a boca e coma a sua comida!”.
Levar bronca por interromper o momento mais família da família era, contudo, algo muito difícil de acontecer. A comidinha da mamãe nos economizava carão. Melhor mastigar e saborear o que havia de mais saboroso no mundo, então.
Mas nada disso se comparava ao jeito da casa de Padim Joca e Mãe Ina, pais de minha mãe. Eles eram imbatíveis em matéria de comedimentos e silêncios à mesa. Lá, hora de almoço, ninguém comia nem se levantava da mesa antes deles.
Meu avô era homem de poucas letras, como diz o chavão, mas também o proto perfeito daquele outro clichê que inscreve pessoas como ele entre os viventes de muita sabedoria. Não um sabido, é bom avisar, mas um verdadeiro sábio.
Sabia, por exemplo, ser severo sem perder a ternura. Embora – pelo que lembro – não fosse do tipo afetuoso, que faz carinho, põe neto pequeno no colo e acha graça em tudo o que o menino faz. Feito o avô que começo a ser.
Padim Joca, baixinho, atarracado, parecia ser a pessoa mais introspectiva do planeta. Não conversava. Proferia frases, quase sempre bordões, entre eles um que deveria ser o de sua predileção: “Homem de muito riso é homem de pouco siso!”.
Se estava trabalhando, então, aí é que não abria mesmo a boca, a não ser para dizer algo que podia soar como ordem ou pudesse calar quem insistisse em tentar distraí-lo de alguma maneira, jogando conversa fora.
Reza a lenda que certa vez ele estava capinando um mato ao lado de casa quando um vizinho aproximou-se e começou a puxar conversa. O sujeito demorou-se conversando e Padim Joca só ouvindo. E capinando.
Meu avô suportou o blablablá até o limite da sua paciência e bonomia. Até concluir que o seu interlocutor não se calaria se não lhe fosse oferecida uma chance, digamos assim, de se mancar e encerrar o papo fiado.
– É servido um trabalhinho? – ofereceu Padim Joca, no melhor estilo Joca Barbosa de dispensar conversa oca, desconcertando e despachando, enfim, o falador.
Outra lembrança boa que tenho é de quando a gente o visitava em Tacima, terra natal de Dona Aparecida, ou na Carnaúba, fazenda no município de Dona Inês, acredito, onde meu avô plantava e colhia agave e algodão e criava um gado razoável.
Em uma dessas visitas, no almoço minha avó serviu feijão com charque e carne de sol. Detestava charque na época e caí na besteira de reclamar baixinho ao irmão que sentou ao meu lado. Pra quê?
Mãe, pai e avô devem ter audição apurada pr’essas coisas. Olharam na minha direção ao mesmo tempo. Daquele jeito! Não precisaram dizer nada. O olhar ordenava-me comer com gosto o feijão charqueado, sem dizer um ai.
“Era só o que faltava…”, deve ter dito pra si minha mãe ou meu pai. Sim, porque tanto na volta de Padim Joca e Mãe Ina como na de Vicente e Aparecida não tinha esse negócio de ‘não gosto disso ou daquilo’.
Comida na mesa era e é pra ser comida. Salvo em circunstâncias excepcionais, por recomendação médica ou lenda alimentar que chama de carregado esse ou aquele alimento e veta o seu consumo em determinadas convalescências.
Vejam como é tudo diferente, muito diferente mesmo do que ocorre hoje, quando um filho rejeita a salada de verduras, os legumes ou a sopa e não raro consegue o que quer de prestimosos e flexíveis pais.
Aqui em casa, pelo menos, se a mulher não estiver por perto, abro a geladeira ou a despensa em busca do que eu possa fazer para agradar ao paladar pouco exigente (do ponto de vista nutricional), mas super independente da minha caçula.