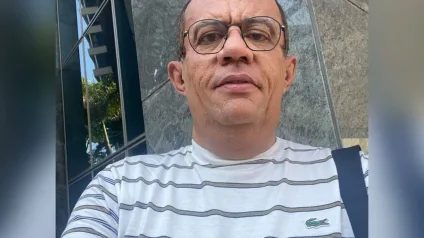“Recessão é quando o vizinho perde o emprego, depressão é quando você o perde.” O edifício do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) onde aconteceu a primeira parte desta entrevista ainda parecia alheio, naquele 12 de março, à tempestade global desencadeada pela pandemia de coronavírus, que colocou a vida e a economia de cabeça para baixo. Os estudantes percorriam os corredores com ar despreocupado, embora uma ou outra máscara alertasse que algo não ia bem. Ao chegar ao escritório da professora Esther Duflo (Paris, 1972), o cumprimento a um metro de distância, transformado em um sorriso e um encolher de ombros recíproco, acabou confirmando o desconforto com aquele momento. Nos dias que se seguiram tudo começou a desmoronar e inclusive esse estranho encontro já parecia, de repente, impossível.
O mundo é hoje um lugar diferente. No início desta semana, a economista respondeu a novas perguntas sobre a crise sanitária e econômica, cuja dimensão começa a ser mais bem conhecida, apesar das incógnitas a resolver. O SARS-CoV-2 é um vírus novo, do qual ainda se sabe pouco, e Duflo é uma economista obcecada por testes, por experimentos. Ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2019 ao lado de Abhijit Banerjee e Michael Kremer por sua abordagem da luta contra a pobreza, que funciona com base em evidências científicas.
Em 2003 ela criou junto com Banerjee —seu marido— um laboratório, o J-PAL, do MIT, que projeta estratégias usando uma metodologia semelhante à aplicada em testes clínicos. Em seu último livro, Good economics for hard times (Boa economia para tempos difíceis, que antes da pandemia estava previsto para ser publicado neste ano no Brasil pela Zahar), ambos desmontam outro bom número de teorias pré-concebidas sobre a economia e como esta pode ajudar a resolver nossos problemas. Duflo cita Keynes, que disse: “Os homens práticos, que se acreditam isentos de qualquer influência intelectual, geralmente são escravos de algum economista defunto”.
Pergunta. A economia despencou devido à pandemia. Por que quase ninguém espera uma reativação igualmente drástica?
Resposta. Existem dois aspectos. Um é durante quanto tempo o problema subjacente, o vírus, estará conosco e exigirá que mudemos a maneira como produzimos, consumimos ou interagimos em modos fundamentais. Esse ajuste levará tempo. Até termos uma vacina ou um medicamento que funcione bastante bem não podemos esperar uma recuperação completa. Estou otimista em relação à ideia de que a vacina possa ser conseguida dentro de 18 meses, pois existe muito esforço e dinheiro por trás disso. Uma vez que a tivermos, há motivos para sermos otimistas. A grande diferença entre esta crise e a crise de 2008 ou a Depressão de 1929 é que o colapso não se deveu a uma crise do sistema bancário. Isto se parece mais com um desastre natural ou uma guerra, e a experiência das guerras é que os países se recuperam bastante rápido. Vimos isso com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial ou no Vietnã depois da guerra. Quando as pessoas sentirem que podem sair e que podem confiar em sua estabilidade financeira, nos recuperaremos.
P. Quando você diria que uma recessão se transforma em depressão? Como evitar passar de uma para outra?R. Segundo o dicionário Merriam-Webster, existe uma citação, possivelmente apócrifa, atribuída a Truman, que diz: “Recessão é quando seu vizinho perde o emprego, depressão é quando você o perde”. Em outras palavras, uma depressão é uma recessão mais severa, que foi crescendo como uma bola de neve. Para evitá-la é essencial apoiar a renda das pessoas e, mais importante inclusive, fazê-las ver que terão renda para seguir em frente. Os países ricos gastaram muito dinheiro para estimular a economia —cerca de 10% do PIB, no caso dos Estados Unidos—, mas o risco é que parte desse dinheiro seja destinada ao resgate dos acionistas de empresas resgatadas, como as companhias aéreas. Isso não fará nada para ajudar uma economia diante de uma crise de demanda, o que precisamos é manter os empregos e salários tanto quanto pudermos. Foi o que fez a Dinamarca e penso que o país se reativará a partir de uma posição muito boa. Isso mostra a força do seu contrato social.
No momento em que as pessoas sentirem que podem sair e confiar em sua estabilidade financeira, nos recuperaremos
P. Haverá mudanças estruturais ou, pelo menos, muito duradouras? Uma nova ordem na economia?
R. Existe muita discussão sobre o comércio nos EUA e na Europa. Em nosso livro, somos muito críticos com o impacto do comércio na vida das pessoas, mas ainda não entendo por que as pessoas acreditam que são responsáveis por essa crise. Claramente, estamos nos movendo mais do que antes, e se ninguém fosse a lugar algum a pandemia não seria global, mas isso tem a ver com as pessoas, não com os produtos. Também há quem acredite que, se as cadeias de abastecimento fossem mais locais, não teríamos sofrido a falta de alguns bens (como respiradores e máscaras), muitos dos quais são produzidos na China. Mas isso é esquecer que, depois de um fechamento inicial das exportações, a China aumentou a produção e abastece todo o mundo. Vamos imaginar o contrário: se cada país dependesse de suas próprias fábricas, o que aconteceria se o seu país adoecesse e rompesse as cadeias de abastecimento internacionais? O problema não foi o comércio, mas o fato de que os países estavam tentando economizar e não estavam preparados para isto. Acredito que as empresas aprenderão como é perigoso depender de um único fornecedor de um único país, então elas se diversificarão. E isso pode significar uma grande oportunidade para os países em desenvolvimento, que têm poucas oportunidades de competir com a China. Com um pouco de ajuda poderiam ter acesso aos mercados internacionais, fornecer muitos produtos e mostrar o que podem fazer. Isso os ajudaria a se integrar à economia internacional, com o apoio adequado. Pode ser uma grande oportunidade de crescimento para eles.
P. E como acredita que o mundo do trabalho pode mudar?
R. O que preocupa é que nesta crise os executivos de empresas possam se acomodar em seu desejo de avançar em direção a uma automatização máxima. Antes da crise as empresas já estavam apostando muito nessa automatização, inclusive quando as máquinas não eram necessariamente superiores ao ser humano. Mas recebem um tratamento fiscal mais favorável, não se organizam nem fazem greves. Isso levou a muita substituição de empregados por máquinas e esses postos de trabalho perdidos não foram compensados por outros. Temo que, com a possibilidade de que as pessoas adoeçam —especialmente se você as aglomera em más condições—, os diretores e os acionistas apostarão na automatização de um modo negativo para os trabalhadores. Talvez seja uma tendência que não podemos parar, mas pelo menos podemos ajudar os trabalhadores a se adaptarem à mudança e a encontrar outros empregos.
P. Que efeito você espera na luta contra a pobreza?
R. Os pobres nos países em desenvolvimento são alguns dos mais vulneráveis nesta crise, mesmo que o vírus, felizmente, não seja tão mortal quanto se pensava inicialmente. Mas geralmente estão no limiar da fome e podem cair facilmente na armadilha da pobreza da qual será muito difícil sair. Isso poderia aniquilar décadas de progresso. No livro, defendemos uma “renda ultrabásica universal”. Muitos países estão preparados para isso. Por exemplo, o Togo implementou em questão de dias um plano que cobre 500.000 de seus oito milhões de habitantes, mas o país precisa de dinheiro para estendê-lo e continuá-lo e, no momento, não encontra todos os recursos de que necessita. Isto é algo em que o mundo rico pode ajudar, mas agora está muito focado em seus próprios problemas. Espero que eles consigam se virar para coordenar a ajuda.
P. Você começou estudando História. Por que passou para a Economia?
R. Pensei que seria mais útil. Estava interessada em mudar o mundo ou ajudar a elaborar políticas. A História não parece ser uma maneira muito rápida de conseguir isso.
P. Ainda acredita que pode mudar o mundo com a Economia?
R. Estou tentando, no meu trabalho tive a oportunidade de mudar o mundo, ou, ao menos, mudar vidas. Causar impacto em muitas pessoas graças a melhores políticas para os problemas que elas têm.
P. Os historiadores vão se ofender agora porque você diz que eles não mudam o mundo…
R. Bem, eles desempenham um papel muito importante em moldar a narrativa, e isso também muda o mundo, mas não é suficientemente direto, eu queria um atalho.
P. A luta contra a pobreza tinha experimentado grandes progressos nas últimas décadas. Independentemente desta crise, você acredita que existe um teto, um limite a partir do qual continuar melhorando exige sacrifícios que o mundo rico não está disposto a assumir?
R. Acredito que não. Para começar, os pobres têm tão pouco dinheiro que não é preciso grande coisa para torná-los mais ricos, qualquer melhoria na economia global pode tirá-los da pobreza. Era concebível atingir o objetivo de eliminar a pobreza extrema até 2030 (a data estabelecida nas Metas de Desenvolvimento Sustentável), coisa que agora, com a pandemia e a recessão global, talvez não aconteça. Mas, inclusive se o conseguirmos, ampliaremos a meta, com o que, de algum modo, a luta contra a pobreza nunca desaparecerá. Uma vez que se consiga que ninguém viva com menos de um dólar, se deve pensar que ninguém deveria fazê-lo com menos de dois e, mais adiante, com menos de cinco. Nossa definição de pobreza vai evoluindo de forma muito natural.
P. A abordagem do seu trabalho, o método do teste clínico aplicado à Economia, permitiu derrubar algumas ideias preconcebidas, raciocínios que podem parecer lógicos, mas que não são reais na prática.
R. Sim, por exemplo, existe a ideia de que, se você der ajuda a uma família, fará com que ela trabalhe menos. Um projeto de acompanhamento analisou isso e constatou que não é verdade. Se, por exemplo, você der uma vaca a uma família pobre, para começar ela trabalhará mais para cuidar dessa vaca. E se você também lhes der a oportunidade, por exemplo, de produzir sacolas, serão capazes de fazê-las melhor, mais elaboradas e com menos erros. O presente não só não os torna mais desocupados, como também lhes proporciona um bem-estar e uma segurança que os torna mais produtivos.
P. Algumas ideias são mais teimosas que os dados.
R. Passo a passo. Um único experimento não muda a mentalidade de ninguém, mas o acúmulo de evidências vai fazendo efeito. Veja o caso do microcrédito, as pessoas adoraram a ideia. A primeira avaliação que mostrou que não eram tão fantásticos não foi levada muito a sério, mas depois que oito ou nove testes deram o mesmo resultado, conseguiu-se uma mudança. Não se trata de fechar todas as operações de microcrédito, mas de torná-las mais eficientes.
Existe a ideia de que, se você der ajuda a uma família, fará com que ela trabalhe menos. Não é verdade. Se você der uma vaca a uma família pobre, para começar ela trabalhará mais para cuidar dessa vaca
P. Em seu livro você menciona a história de uma confeitaria que se recusa a vender bolos de noiva para casais do mesmo sexo [é inspirada em um caso real, ocorrido em 2012 em Denver] e perde muitos clientes que rejeitam sua homofobia, mas ao mesmo tempo é muito popular em outros grupos. O que você quis explicar com esse episódio?
R. A teoria diria que não devemos nos preocupar com situações desse tipo porque alguém que discrimina assim não sobreviverá no mercado, mas isso não é verdade, porque os casais gays podem deixar de comprar, mas a direita cristã, ou quem quer que seja, pode compensar isso. Quero dizer que não se pode contar com que o mercado por si mesmo solucione tudo. Se houver consumidores que querem discriminar alguém, sempre haverá uma empresa que poderá tirar proveito disso e ampliar essa discriminação.
P. Não existe uma receita única para todos os países em desenvolvimento. Por que não se pode copiar o modelo chinês?
R. A China é um caso completamente único, com seu conjunto de circunstâncias únicas, e nem sequer está claro qual seria sua receita. O que se deve fazer, iniciar uma revolução cultural e matar 50 milhões de pessoas durante uma epidemia de fome? Está claro que não queremos seguir o exemplo da China, porque teríamos de pular o período de Mao e começar a partir daí. Portanto, se você disser a um país “faça como a China”, não está muito claro o que isso significa. Mesmo se isolarmos um único aspecto que funcionou na China, não há evidências de que funcionaria em outro país. E acredito que os economistas chegaram à conclusão de que não sabem como influir no crescimento de economias inteiras… O que dizemos no livro é que o crescimento não implica bem-estar. Se o que te preocupa é a pobreza, não é o crescimento o que mais te interessa, mas a renda dos pobres, sua educação, e devemos nos concentrar nisso.
P. Parte de suas análises, centradas nas políticas, lembram o famoso livro Por que as nações fracassam, de Daron Acemoglu e James A. Robinson, sobre as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Não são os recursos naturais, não é a geografia, são as políticas, eles concluem… Você concorda?
R. Sim, James A. Robinson é meu colega e meu amigo. Eles são historiadores e sua ideia é mais de longo prazo, como a história afeta as instituições políticas e estas o resto… Nosso trabalho se baseia mais em dizer: de acordo, com as restrições históricas que você herdou, existe algo que você possa fazer? Os países têm limitações políticas, mas dentro delas é muito aquilo que podem fazer.
P. Também se costuma dizer que, na realidade, a ação dos Governos não é tão crucial para os ciclos econômicos.
R. Não são cruciais para o crescimento. Este tende a seguir suas próprias dinâmicas, existem muitos fatores (mercado, etc.). É pouco o que um Governo pode fazer para evitar um crash da Bolsa se esta caminha para o crash. E o crescimento não é tão controlável pelas políticas, nem nos países ricos nem nos países pobres, o que depende das políticas é o bem-estar.
“AS CRIANÇAS NÃO NOS DEIXAM FALAR MUITO DE TRABALHO”
Esther Duflo e Abhijit Banerjee são um casal no trabalho e na vida. A economista francesa conta que costumavam conversar sobre trabalho em casa, mas assim que seus filhos, Noemie e Milan, de oito e seis anos, começaram a pedir a palavra na mesa, isso acabou. “Eles querem participar da conversa, por isso falamos de trabalho até o ponto em que eles podem intervir. Caso contrário eles nos mandam calar a boca, não estão interessados. Portanto, não há muitas fofocas sobre trabalho.” Seu último livro, e alguns outros, foram escritos a quatro mãos. Primeiro, eles discutem o que deve haver em cada capítulo. Depois ela redige um primeiro rascunho, ele o revisa, Duflo faz o mesmo nessa segunda versão e, no final, Banerjee revisa a linguagem e cada ferramenta. “Por isso o tom é uniforme”, explica ela. “A vantagem de ser um casal é que a confiança é total. Nas revisões, não usamos controle de alterações, quando passo o texto a ele, pode fazer o que quiser, não reviso o que mexeu”. Nas duas esferas de sua vida, diz Duflo, eles se complementam. “É ele quem cozinha e se ocupa da comida, e eu me encarrego de que as crianças estejam onde devem estar em cada momento… esse tipo de coisa”, descreve. Eles já trabalhavam juntos antes de ser um casal. Enquanto Banerjee veio do campo teórico e, para cada projeto, tem “uma visão excelente” sobre as perguntas que devem ser feitas e sobre os desenhos empíricos, Duflo se concentra “mais na prática e nos detalhes”.

Fonte: EL País
Créditos: EL País